Pós-punk desde criancinha?

 Vejam como são as coisas hoje. Os noruegueses do 120 Days misturam muita coisa do que se aboleta debaixo do guarda-chuva hype atual - agora, toda banda de rock minimamente dançante é new rave - e o resultado soa radicalmente diferente deste senso comum. Mesmo assim, eles estão enquadrados no esquema geral que rola por aí, onde a “novidade” é mais importante do que a relevância sonora. Praticamente todas as resenhas que li sobre eles apontam para uma mistura de Daft Punk e Kraftwerk com o novo rock anos 2000. Na pressa de lançar as novidades, a audição apenas da primeira faixa do seu álbum homônimo, lançado no final do ano passado, a excelente (e longa!) “Come Out (Come Down, Fade Out, Be Gone)”, sugere esta descrição mesmo. Porém, basta ouvir a segunda música do disco, “Be Mine”, para sacar a onda real do 120 Days. Trata-se sim de uma puta banda que emula o melhor do pós-punk oitentista, com baixão na frente marcando o ritmo, bateria eletrônica e sintetizadores analógicos tecendo um beat minimalista e dançante, e vocais urgentes e melódicos ao estilo do U2 (acredite!) dos primeiros discos - não há aquela afetação dos vocalistas atuais, cujos timbres parecem ter saído da dublagem do filme/animação “A Fuga das Galinhas”. O som é denso, com fortes influências de Joy Division (primordialmente), Echo and the Bunnymen e The Cure (fase “Pornography”). Mais um mero emulador do pós-punk? Não somente. Há ainda climões psiciodélicos promovidos pelos sintetizadores ao estilo de “Autobahn”, do Kraftwerk - o que remete ao pós-rock de gente como o Trans AM, porém sem ser chato em demasia. “Get Away”, quinta faixa do disco, sintetiza a sonoridade do 120 Days: refrão forte, densa, dançante... e com absolutamente nenhuma influência pós-anos 80. Mais retrô, impossível. Mais moderno, impossível...
Vejam como são as coisas hoje. Os noruegueses do 120 Days misturam muita coisa do que se aboleta debaixo do guarda-chuva hype atual - agora, toda banda de rock minimamente dançante é new rave - e o resultado soa radicalmente diferente deste senso comum. Mesmo assim, eles estão enquadrados no esquema geral que rola por aí, onde a “novidade” é mais importante do que a relevância sonora. Praticamente todas as resenhas que li sobre eles apontam para uma mistura de Daft Punk e Kraftwerk com o novo rock anos 2000. Na pressa de lançar as novidades, a audição apenas da primeira faixa do seu álbum homônimo, lançado no final do ano passado, a excelente (e longa!) “Come Out (Come Down, Fade Out, Be Gone)”, sugere esta descrição mesmo. Porém, basta ouvir a segunda música do disco, “Be Mine”, para sacar a onda real do 120 Days. Trata-se sim de uma puta banda que emula o melhor do pós-punk oitentista, com baixão na frente marcando o ritmo, bateria eletrônica e sintetizadores analógicos tecendo um beat minimalista e dançante, e vocais urgentes e melódicos ao estilo do U2 (acredite!) dos primeiros discos - não há aquela afetação dos vocalistas atuais, cujos timbres parecem ter saído da dublagem do filme/animação “A Fuga das Galinhas”. O som é denso, com fortes influências de Joy Division (primordialmente), Echo and the Bunnymen e The Cure (fase “Pornography”). Mais um mero emulador do pós-punk? Não somente. Há ainda climões psiciodélicos promovidos pelos sintetizadores ao estilo de “Autobahn”, do Kraftwerk - o que remete ao pós-rock de gente como o Trans AM, porém sem ser chato em demasia. “Get Away”, quinta faixa do disco, sintetiza a sonoridade do 120 Days: refrão forte, densa, dançante... e com absolutamente nenhuma influência pós-anos 80. Mais retrô, impossível. Mais moderno, impossível...Cow Punk?

 Está aí uma banda verdadeiramente surgida nos anos 80 que deveria soar radicalmente fora do eixo vigente naquela época: os californianos do Gun Club! No disco “Miami” (1982) não há qualquer vestígio de bateria eletrônica (aquelas hexagonais...), teclados Casio (aqueles que pareciam de brinquedo...) e guitarras encharcadas de efeitos flanger (aquelas com um som magrinho...). Há sim acordes raivosos, num híbrido de (pós)punk, country music, rockabilly e a anarquia sonora da dupla pré-punk The Stooges e MC5. Os vocais do líder (e também guitarrista) Jeffrey Lee Pierce (falecido em 1996) são gritados, anárquicos, meio que um bluesman bêbado tocando num pub esfumaçado – daí a comparação justa e imediata com o som que Jon Spencer viria a produzir posteriormente com seu Blues Explosion. Eu, que só conhecia a primeira faixa deste disco (“Run Through the Jungle” – um pós-punk meio death rock, totalmente diferente do resto das demais), gravada numa fita K7 há mais de 15 anos, e que tinha apenas como referência o fato de ser a banda de onde saiu a baixista Patricia Morrison para gravar o clássico “Floodland”, do Sisters of Mercy, simplesmente tomei um susto quando um amigo meu me passou o disco inteiro para ouvir. Já os rotularam anos atrás de cow punk. Faz sentido. No meio da mistureba maluca, colorida e espalhafatosa que foram os anos 80, mais estranho no ninho o pessoal do Gun Club não poderia deixar de ser.
Está aí uma banda verdadeiramente surgida nos anos 80 que deveria soar radicalmente fora do eixo vigente naquela época: os californianos do Gun Club! No disco “Miami” (1982) não há qualquer vestígio de bateria eletrônica (aquelas hexagonais...), teclados Casio (aqueles que pareciam de brinquedo...) e guitarras encharcadas de efeitos flanger (aquelas com um som magrinho...). Há sim acordes raivosos, num híbrido de (pós)punk, country music, rockabilly e a anarquia sonora da dupla pré-punk The Stooges e MC5. Os vocais do líder (e também guitarrista) Jeffrey Lee Pierce (falecido em 1996) são gritados, anárquicos, meio que um bluesman bêbado tocando num pub esfumaçado – daí a comparação justa e imediata com o som que Jon Spencer viria a produzir posteriormente com seu Blues Explosion. Eu, que só conhecia a primeira faixa deste disco (“Run Through the Jungle” – um pós-punk meio death rock, totalmente diferente do resto das demais), gravada numa fita K7 há mais de 15 anos, e que tinha apenas como referência o fato de ser a banda de onde saiu a baixista Patricia Morrison para gravar o clássico “Floodland”, do Sisters of Mercy, simplesmente tomei um susto quando um amigo meu me passou o disco inteiro para ouvir. Já os rotularam anos atrás de cow punk. Faz sentido. No meio da mistureba maluca, colorida e espalhafatosa que foram os anos 80, mais estranho no ninho o pessoal do Gun Club não poderia deixar de ser.Shoegazer Gótico?

 Perdido no meio deste post, surge o casal Dean Garcia (guitarra) e Toni Halliway (vocal), que comanda o Curve, uma banda difícil de ser rotulada. Da leva de formações inglesas de nomes curtos (Ride, Lush, etc.) surgidas entre o fim dos anos 80 e começo dos anos 90, categorizadas como shoegazer (devido à postura tímida dos músicos, que tocavam olhando para os seus sapatos), o Curve se destacava por ser muito mais pesado que seus pares de cena, além de carregarem fortemente nas programações eletrônicas e nos climas sombrios. Toni e Dean estavam muito mais para uma dupla gótico-industrial-alternativa do que qualquer outra coisa, pelo menos dos dois discos que tenho deles, “Come Clean” (1998) e “Gift” (2001). Músicas docemente indies e balançadas como “Something Familiar” (1998) e “Want More Need Less” (2001) poderiam enganar os leitores da Melody Maker de outrora, que corriam atrás de algo similar ao que viria se tornar o brit pop dos anos 90, ou então o que um dia já foi o indie dance da geração de Jesus Jones, Soup Dragons (a new rave de 15 anos atrás) e cia. O pesadelo breakbeat hardcore de “Chinese Burn” (1998) e o batidão industrial com guitarras malvadonas e distorcidas digitalmente de “Hell Above Water” (2001 – algo como um Nine Inch Nails com vocal feminino) não dão margem a tais singelezas. Trata-se sim de uma bandaça, totalmente à parte do que rolava quando surgiram – o que dirá dos dias de hoje. Já me disseram que o Curve é um “Garbage do mal”. É por aí. A voz sensual e (pseudo)delicada de Toni declamando letras dúbias por cima de sonoridades proto-indies e programações eletrônicas fazem um paralelo com a banda de Shirley Manson. Mas as batidas muitas vezes descambam no estilo Prodigy e Chemical Brothers (“Gift”, “Chainmail”), ou mesmo no techno/house (“Robbing Charity” e “Fly With The High”). O casal andava meio sumidão, mas em sua página oficial há uma música mais recente, “Weekend”, que é simplesmente arrasadora: batida tribal, synths electro e baxo distorcido. Vai na fé que vale à pena entrar no universo do Curve, mesmo que você não encontre paralelos atualmente.
Perdido no meio deste post, surge o casal Dean Garcia (guitarra) e Toni Halliway (vocal), que comanda o Curve, uma banda difícil de ser rotulada. Da leva de formações inglesas de nomes curtos (Ride, Lush, etc.) surgidas entre o fim dos anos 80 e começo dos anos 90, categorizadas como shoegazer (devido à postura tímida dos músicos, que tocavam olhando para os seus sapatos), o Curve se destacava por ser muito mais pesado que seus pares de cena, além de carregarem fortemente nas programações eletrônicas e nos climas sombrios. Toni e Dean estavam muito mais para uma dupla gótico-industrial-alternativa do que qualquer outra coisa, pelo menos dos dois discos que tenho deles, “Come Clean” (1998) e “Gift” (2001). Músicas docemente indies e balançadas como “Something Familiar” (1998) e “Want More Need Less” (2001) poderiam enganar os leitores da Melody Maker de outrora, que corriam atrás de algo similar ao que viria se tornar o brit pop dos anos 90, ou então o que um dia já foi o indie dance da geração de Jesus Jones, Soup Dragons (a new rave de 15 anos atrás) e cia. O pesadelo breakbeat hardcore de “Chinese Burn” (1998) e o batidão industrial com guitarras malvadonas e distorcidas digitalmente de “Hell Above Water” (2001 – algo como um Nine Inch Nails com vocal feminino) não dão margem a tais singelezas. Trata-se sim de uma bandaça, totalmente à parte do que rolava quando surgiram – o que dirá dos dias de hoje. Já me disseram que o Curve é um “Garbage do mal”. É por aí. A voz sensual e (pseudo)delicada de Toni declamando letras dúbias por cima de sonoridades proto-indies e programações eletrônicas fazem um paralelo com a banda de Shirley Manson. Mas as batidas muitas vezes descambam no estilo Prodigy e Chemical Brothers (“Gift”, “Chainmail”), ou mesmo no techno/house (“Robbing Charity” e “Fly With The High”). O casal andava meio sumidão, mas em sua página oficial há uma música mais recente, “Weekend”, que é simplesmente arrasadora: batida tribal, synths electro e baxo distorcido. Vai na fé que vale à pena entrar no universo do Curve, mesmo que você não encontre paralelos atualmente.





 Em outros tempos, um post como este nunca poderia deixar os
Em outros tempos, um post como este nunca poderia deixar os 

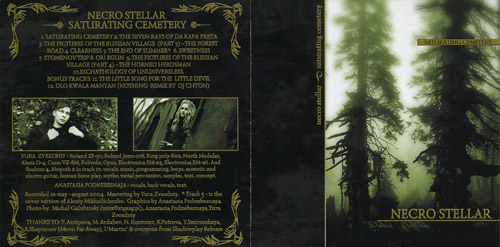
 O grupo suiço
O grupo suiço  A banda sempre prezou por belas melodias vocais, e os caras resolveram incluir nelas influências radicalmente psicodélicas e progressivas no disco seguinte, “
A banda sempre prezou por belas melodias vocais, e os caras resolveram incluir nelas influências radicalmente psicodélicas e progressivas no disco seguinte, “

 Ouvir um disco delicioso como o mais recente lançamento do Kill Kult, “
Ouvir um disco delicioso como o mais recente lançamento do Kill Kult, “
 À primeira audição, “Year Zero” soa mal acabado, sujo, de ritmo agarrado num freio de mão. Quando fui ouvir, até pensei que a cópia que meu amigo Hudson (valeu!!!) havia me dado de presente se tratava da versão demo do disco, naquelas típicas pegadinhas do mundo dos downloads, quando você, na ânsia de baixar o disco antes dele sair oficialmente, acaba pegando uma versão inacabada da obra. Mas o disco era esse mesmo! E Reznor, como bom conhecedor de estratégias de marketing, tratou logo de criar factóides que pudessem chamar a atenção para a sua obra mais anti-comercial: a temática ambientada num futuro próximo, apocalíptico, arrasado social e ambientalmente... e com uma mão que vem do céu para aterrorizar as pessoas! Bom, todo mundo já leu isso antes na internet e em praticamente todos os setores da mídia musical – até os indies caíram no hype de ouvir e elogiar o disco (mais pela temática meio nerd do álbum, que inclusive teve prenúncios estilo RPG virtual espalhados pela rede)! Ué? Indie caindo na onda de uma banda com quase vinte anos de estrada?!? O caô de Mr. Reznor colou mesmo!
À primeira audição, “Year Zero” soa mal acabado, sujo, de ritmo agarrado num freio de mão. Quando fui ouvir, até pensei que a cópia que meu amigo Hudson (valeu!!!) havia me dado de presente se tratava da versão demo do disco, naquelas típicas pegadinhas do mundo dos downloads, quando você, na ânsia de baixar o disco antes dele sair oficialmente, acaba pegando uma versão inacabada da obra. Mas o disco era esse mesmo! E Reznor, como bom conhecedor de estratégias de marketing, tratou logo de criar factóides que pudessem chamar a atenção para a sua obra mais anti-comercial: a temática ambientada num futuro próximo, apocalíptico, arrasado social e ambientalmente... e com uma mão que vem do céu para aterrorizar as pessoas! Bom, todo mundo já leu isso antes na internet e em praticamente todos os setores da mídia musical – até os indies caíram no hype de ouvir e elogiar o disco (mais pela temática meio nerd do álbum, que inclusive teve prenúncios estilo RPG virtual espalhados pela rede)! Ué? Indie caindo na onda de uma banda com quase vinte anos de estrada?!? O caô de Mr. Reznor colou mesmo!
 Veja aí um exemplo de atualidade se sobrepondo ao que já foi considerado atual nos mesmos anos 2000, e que estão lançando discos hoje: Klaxons (disco de estréia) e Kings of Leon (terceiro disco). O som das duas bandas não tem nada a ver, com certeza. Mas há aí um paradoxo irresistível pedindo comparações. O primeiro fez fama com declarações arrogantes, a cunha de um novo rótulo (new rave), e conseguiu um contrato sem ao menos ter músicas suficientes para encher um EP (isso eles disseram em entrevistas). A tal da “urgência pop” clamou por um álbum em nome de cifras para as gravadoras, mas o público conquistado com uma ou duas músicas já os dava como “ultrapassados” quando soube do lançamento de seu primeiro disco “inteiro”. Uma audição cuidadosa do álbum (eu fiz isso!) revela um grupo promissor, divertido, mas carecendo ainda de uma personalidade musical mais forte do que suas declarações mal-criadas na imprensa. E o pior: os próprios deram fim oficial ao hype criado por eles mesmos! Justo eles, que apareceram ao mundo se auto-proclamando como a “novidade mais atual do momento”?! Já o Kings of Leon encontra-se no momento sem o auxílio luxuoso do hype que os cercou poucos anos atrás. Também, pudera: seu som, uma espécie de southern rock anos 2000, chegou como “novidade” para as gerações atuais, mas revelou mais pegada, mais consistência, e menos saco para dançar conforme a velocidade diária das informações recentes. Na boa, mas o som do Kings of Leon já nasceu velho, talvez eles mesmos nem tenham percebido isso. Caíram nas graças dos geradores de hype e depois foram relativamente esquecidos pela massa. Foram incensados pelo mesmo tipo de gente que achou que o som, por exemplo, do Wolfmother era novo e se esquece (repito: basta um clique no mouse!) de que há todo um cenário stoner rock (estilo onde a banda citada se encaixa melhor) vivo há mais de 15 anos e que se baseia em gente ainda mais antiga como Black Sabbath, Blue Cheer e Led Zeppelin. Isso é ruim? Creio que não. Se os Kings of Leon estão no terceiro disco (que é muito bom!), é sinal de que alguém aí sustenta uma carreira que parece ultrapassar a superficialidade. É só ver o caso dos White Stripes (e dos Raconteurs por tabela) para constatar que é, sim, possível criar consistência sonora em plena era do download, sobreviver ao hype de outrora, conquistar e manter novas e antigas gerações. A informação, hoje, exige quase sempre um mínimo esforço para achá-la. Mas nada nesta vida perdura sem um esforço considerável.
Veja aí um exemplo de atualidade se sobrepondo ao que já foi considerado atual nos mesmos anos 2000, e que estão lançando discos hoje: Klaxons (disco de estréia) e Kings of Leon (terceiro disco). O som das duas bandas não tem nada a ver, com certeza. Mas há aí um paradoxo irresistível pedindo comparações. O primeiro fez fama com declarações arrogantes, a cunha de um novo rótulo (new rave), e conseguiu um contrato sem ao menos ter músicas suficientes para encher um EP (isso eles disseram em entrevistas). A tal da “urgência pop” clamou por um álbum em nome de cifras para as gravadoras, mas o público conquistado com uma ou duas músicas já os dava como “ultrapassados” quando soube do lançamento de seu primeiro disco “inteiro”. Uma audição cuidadosa do álbum (eu fiz isso!) revela um grupo promissor, divertido, mas carecendo ainda de uma personalidade musical mais forte do que suas declarações mal-criadas na imprensa. E o pior: os próprios deram fim oficial ao hype criado por eles mesmos! Justo eles, que apareceram ao mundo se auto-proclamando como a “novidade mais atual do momento”?! Já o Kings of Leon encontra-se no momento sem o auxílio luxuoso do hype que os cercou poucos anos atrás. Também, pudera: seu som, uma espécie de southern rock anos 2000, chegou como “novidade” para as gerações atuais, mas revelou mais pegada, mais consistência, e menos saco para dançar conforme a velocidade diária das informações recentes. Na boa, mas o som do Kings of Leon já nasceu velho, talvez eles mesmos nem tenham percebido isso. Caíram nas graças dos geradores de hype e depois foram relativamente esquecidos pela massa. Foram incensados pelo mesmo tipo de gente que achou que o som, por exemplo, do Wolfmother era novo e se esquece (repito: basta um clique no mouse!) de que há todo um cenário stoner rock (estilo onde a banda citada se encaixa melhor) vivo há mais de 15 anos e que se baseia em gente ainda mais antiga como Black Sabbath, Blue Cheer e Led Zeppelin. Isso é ruim? Creio que não. Se os Kings of Leon estão no terceiro disco (que é muito bom!), é sinal de que alguém aí sustenta uma carreira que parece ultrapassar a superficialidade. É só ver o caso dos White Stripes (e dos Raconteurs por tabela) para constatar que é, sim, possível criar consistência sonora em plena era do download, sobreviver ao hype de outrora, conquistar e manter novas e antigas gerações. A informação, hoje, exige quase sempre um mínimo esforço para achá-la. Mas nada nesta vida perdura sem um esforço considerável.




 Eu estava procurando por uma banda boa de rock industrial, daquelas que você ouve um álbum inteiro sem ter de agüentar batidas e fórmulas repetidas ao longo do disco. Infelizmente o termo “personalidade” anda em falta em diversos segmentos musicais e no universo industrial não é diferente. Foram vários tiros no escuro até achar algo que realmente valesse à pena uma audição mais cuidadosa. O duo norte-americano
Eu estava procurando por uma banda boa de rock industrial, daquelas que você ouve um álbum inteiro sem ter de agüentar batidas e fórmulas repetidas ao longo do disco. Infelizmente o termo “personalidade” anda em falta em diversos segmentos musicais e no universo industrial não é diferente. Foram vários tiros no escuro até achar algo que realmente valesse à pena uma audição mais cuidadosa. O duo norte-americano 
 Imagine uma pouco provável mistura de Die Warzau, Nine Inch Nails e
Imagine uma pouco provável mistura de Die Warzau, Nine Inch Nails e  O grupo esloveno
O grupo esloveno 
 O duo germânico
O duo germânico 
 Num outro CD resolvi juntar faixas de
Num outro CD resolvi juntar faixas de 
 No mesmo CD, pesquei algumas faixas do grupo norte-americano Orgy e seu álbum mais recente, “
No mesmo CD, pesquei algumas faixas do grupo norte-americano Orgy e seu álbum mais recente, “
